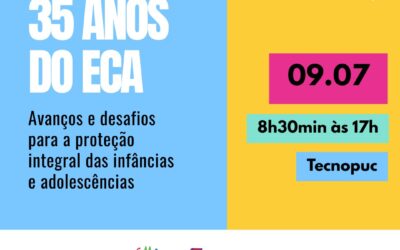Na língua de muitos povos indígenas de Moçambique, não existe uma palavra para ‘natureza’. Isso não é ausência — é inteireza. Porque, para esses povos, a natureza não é algo separado de nós, não é recurso nem cenário. É o próprio corpo da vida em comum. Somos natureza. E esquecer isso talvez tenha sido um caminho esvaziado de vida e, por consequência, possivelmente um erro.
Esse esquecimento se transforma em enchente, em deslocamento forçado, em perda de chão — como vimos no Rio Grande do Sul, onde a água nos empurrou de volta à pergunta mais básica: onde é o lugar de cada um de nós?
Cabe salientar que ao questionar o lugar de cada um de nós, me distancio E MUITO, da violência sofrida por Marina Silva, quando convocada para se colocar no seu lugar esta semana, dia 27/05, em uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, à qual ela havia sido chamada para falar da criação de áreas de conservação na região Norte.
Voltando às reflexões de hoje, Mia Couto, com quem aprendemos nesta fala, nos lembra que nem toda cidade nasce certa – às vezes nasce sobre dunas instáveis, às vezes nasce em desacordo com o rio. Ele próprio disse que não tinha uma terra natal, mas uma ‘água natal’. Nós também. Porque nos reconhecemos nesse chão instável que exige recomeço constante.
Mas o recomeço, para ser verdadeiro, precisa escutar. Escutar os rios, sim, mas também os que vivem à sua beira. Escutar o que está antes da palavra escrita, escutar o que há de humano no medo do outro. Escutar também os curandeiros moçambicanos que, diante do vírus, pediram: “nos ensinem a língua que ele fala”. Queriam conversar com ele, porque sabiam que a doença, para seu povo, nasce do silêncio — da falta de diálogo entre os mundos.
Aqui, nas nossas ilhas urbanas e rios feridos, o risco é o mesmo: acharmos que vamos salvar com protocolos prontos. Que basta dragar o rio ou mover a população. Mas o rio engravida – como disse aquela mulher ao Mia. Ele tem seus ciclos, suas memórias. Nós é que invadimos seu corpo. E agora o culpamos por nos desalojar.
Em inúmeras vezes, Marcia Barbosa, Reitora da UFRGS e física teórica, falou em Esperançar, ideia de Freire que nos convida a ação, segundo ele: “É preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo” (FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992).
E assim, Márcia, Mia e Freire nos convidam a não repetir o discurso da grande salvação. As mudanças nascem das pequenas histórias.
A esperança, então, não é feita de certezas absolutas. É feita de vínculos. É no gesto de contar uma história ao redor de uma mesa, de curar com um beijo, de escutar um cientista que reconhece que ainda não sabe — é aí que ela se anuncia. Porque a esperança não nasce da vitória total, mas da confiança radical de que vale a pena continuar dialogando mesmo quando não sabemos tudo.
Como disse Mia, o médico cura antes da cura com uma promessa de cuidado. A mãe cura com um gesto que não elimina a ferida, mas reconhece a dor. O cientista cura o mundo quando assume que, ao lado do algoritmo e do dado, precisa haver também poesia, espanto e humildade.
Quando olho para minha atuação na FG, tenho muitas dúvidas diariamente, mas a certeza de que nos propusemos sempre a escutar. A convicção de não oferecer respostas prontas, mas espaços de escuta. Em não levar educação como receita, mas como relação. Em recusar soluções simplistas para problemas complexos – como mover comunidades inteiras sem perguntar o que ali se construiu, que histórias estão enterradas naquele chão, que memórias resistem em cada esquina?
É dessa recusa que nasce nosso modo de esperançar: não fingindo salvar, mas descobrindo relações que sustentam a vida. Porque, como aprendemos com Mia, quando perdemos o chão, ainda podemos encontrar uns aos outros. E, talvez, ao nos encontrarmos, reencontremos também o sentido de mundo.

Texto de Taila Becker – Assessora de projetos da FG